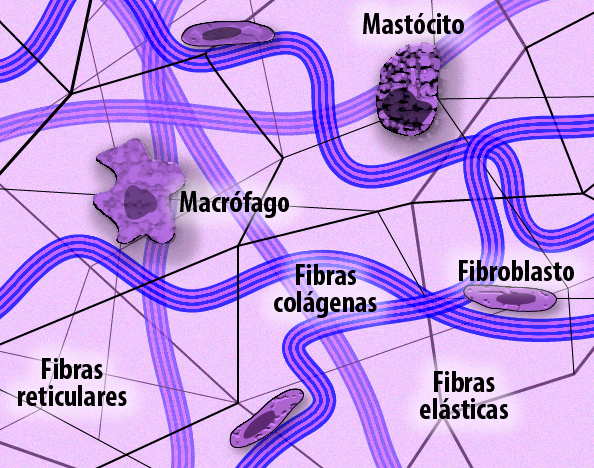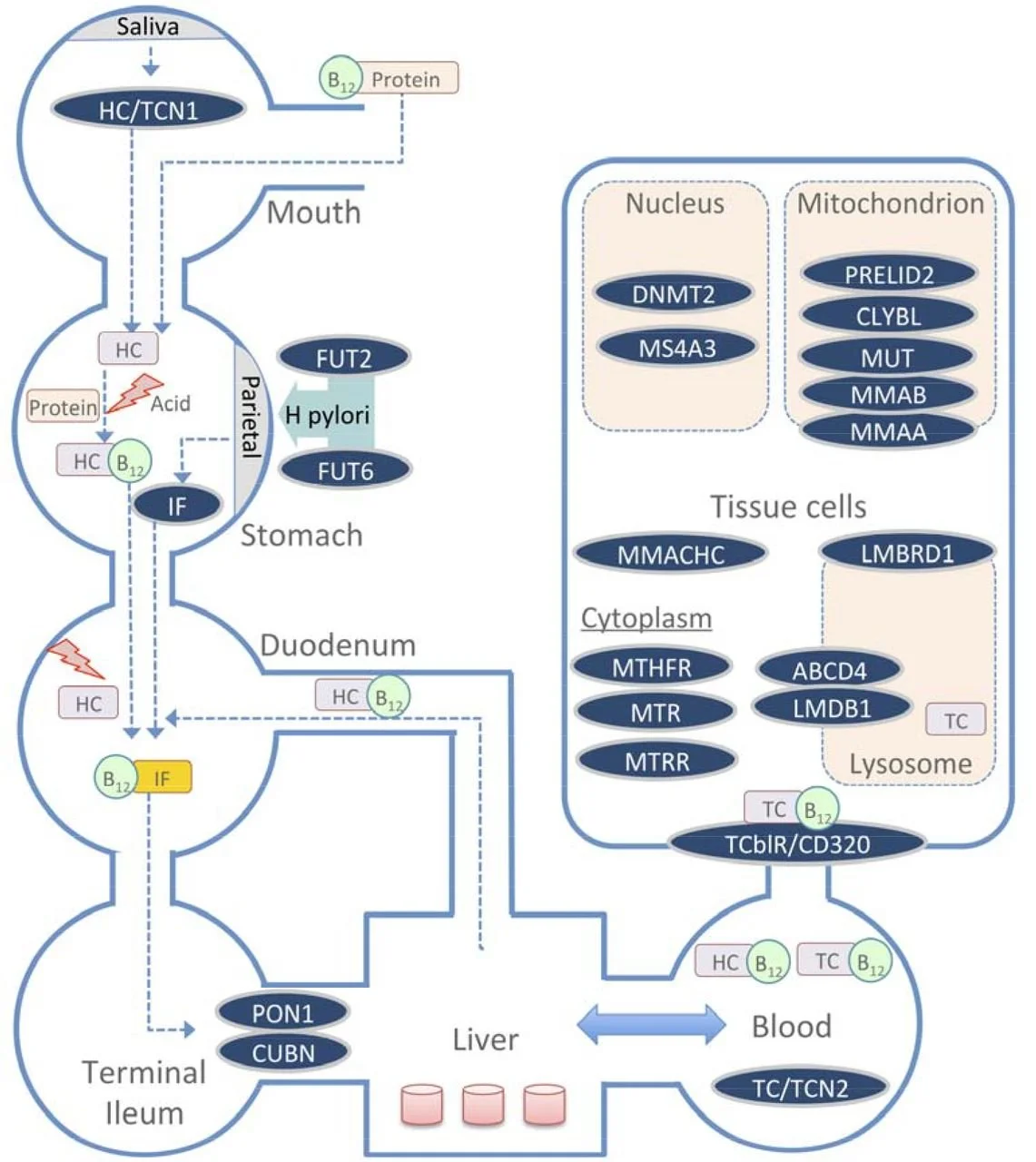O lipedema é uma condição crônica caracterizada pelo acúmulo anormal de tecido adiposo subcutâneo, principalmente em membros inferiores, muitas vezes associada a dor, hematomas fáceis e dificuldade na perda de gordura com dieta ou exercício. Embora sua fisiopatologia ainda não seja completamente elucidada, estudos recentes têm explorado aspectos genéticos e metabolômicos dessa condição para entender melhor os mecanismos envolvidos.
O lipedema não é apenas um excesso de gordura; envolve:
Metabolismo lipídico alterado no tecido adiposo.
Inflamação crônica local.
Alterações no metabolismo de aminoácidos e energia.
Disfunção vascular e linfática subclínica.
A metabolômica nos ajuda a estudar tudo isso. Metabolômica é o estudo sistemático de metabólitos pequenos (como aminoácidos, lipídios, açúcares, ácidos orgânicos) em células, tecidos ou fluidos biológicos. Ela permite mapear o estado funcional do metabolismo de um organismo ou tecido em determinado momento.
No caso do lipedema, a metabolômica ajuda a identificar alterações específicas no tecido adiposo subcutâneo que diferenciam a doença da obesidade comum ou de outros edemas.
1. Alterações no metabolismo lipídico
Pacientes com lipedema apresentam alterações na composição e função do tecido adiposo. Observa-se aumento de adipócitos hipetrofiados, especialmente no tecido subcutâneo das pernas, mas sem o mesmo grau de resistência à insulina que o obesidade clássica.
Estudos metabolômicos identificaram diferenças em ácidos graxos livres e triglicerídeos específicos, sugerindo que o tecido adiposo do lipedema tem um metabolismo lipídico alterado.
2. Inflamação crônica de baixo grau
O tecido adiposo do lipedema apresenta infiltrado inflamatório aumentado, com presença de macrófagos e citocinas pró-inflamatórias. Metabolômica mostra alteração de metabólitos ligados a stress oxidativo e inflamação, como aumento de radicais livres, peroxidação lipídica e produtos da via do ácido araquidônico. Esses metabólitos podem contribuir para a sensibilidade à dor característica do lipedema.
3. Alterações nos aminoácidos e metabolismo energético
Alguns estudos detectaram alterações em aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA), implicando desregulação na sinalização de insulina e no metabolismo energético local.
Há sugestão de que o tecido lipedematoso tem diferença na oxidação mitocondrial, podendo favorecer armazenamento de gordura ao invés de utilização como energia.
4. Metabolismo vascular e linfático
Metabolômica indica desequilíbrios em metabólitos ligados à função endotelial e permeabilidade vascular, o que pode explicar o edema e acúmulo de fluido intersticial frequentemente observado. Alterações nos glicolípides e esfingolípides podem afetar integridade da microvasculatura e facilitar inflamação local.
5. Potenciais biomarcadores
Pesquisas iniciais sugerem que determinados lipídios e aminoácidos podem servir como biomarcadores do lipedema, diferenciando-o de obesidade simples. Isso inclui variações em fosfolipídios, esfingolipídios e certos ácidos graxos oxidados.
Essas alterações metabolômicas ajudam a explicar a resistência do lipedema a dietas, a sensibilidade à dor e a propensão ao edema. O estudo desses perfis metabólicos pode abrir caminho para diagnósticos mais precisos e terapias direcionadas, incluindo intervenções farmacológicas e nutricionais.
Precisa de ajuda? Marque aqui sua consulta de nutrição online