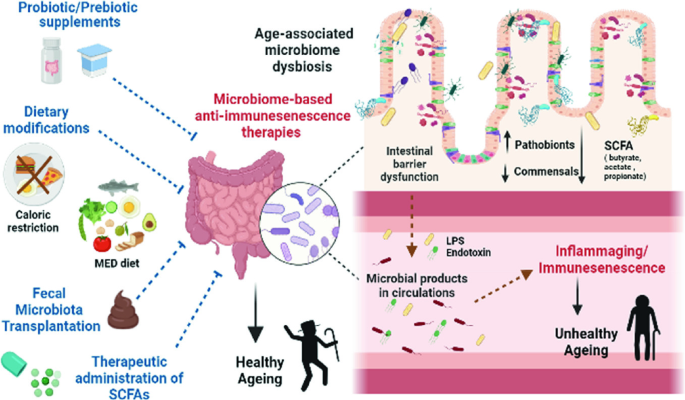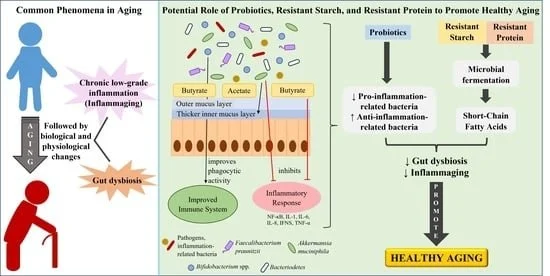O artigo “Antioxidants in smokers” (Astori et al., 2021) faz um balanço amplo sobre como o tabagismo altera o equilíbrio redox, quais antioxidantes ficam reduzidos no sangue de fumantes, e o que se sabe sobre intervenções com dieta e suplementos. O estado pró-oxidante e inflamatório induzido pela fumaça é sistêmico e persistente. Mas antioxidantes ajudam? Fazem bem ou mal?
Por que fumar aumenta o estresse oxidativo?
A fumaça de cigarro contém radicais livres e oxidantes em grande quantidade, que esgotam defesas endógenas (p.ex., glutationa) e danificam lipídios, proteínas e DNA. Biomarcadores de dano oxidativo e inflamação ficam elevados mesmo fora do pulmão.
Fumantes geralmente apresentam níveis plasmáticos mais baixos de vitamina C, tocoferóis (vitamina E), carotenoides (β-caroteno, licopeno, β-criptoxantina, luteína/zeaxantina) e selênio, junto com glutationa (GSH) reduzida e maior razão de marcadores oxidativos. Esses déficits sustentam a hipótese de que aumentar a ingestão dietética de antioxidantes pode ser particularmente benéfico para essa população.
Estudos prospectivos grandes (p.ex., EPIC) associam maior consumo de frutas/vegetais a menor mortalidade por DCV e redução modesta do risco de alguns cânceres. Em fumantes cada +100 g/dia de frutas e vegetais se associou a ~15% menos risco de carcinoma escamoso de pulmão. Os efeitos não foram consistentes para outros subtipos de câncer.
O artigo enfatiza que os antioxidantes dos alimentos funcionam melhor do que os das cápsulas, pelos efeitos aditivos/sinérgicos de fitoquímicos na matriz alimentar, além de hormese (estímulos leves pró-oxidantes da planta que induzem vias citoprotetoras como Nrf2).
Suplementos isolados (e seus problemas)
Ensaios randomizados e meta-análises em fumantes falharam em mostrar benefícios consistentes de vitaminas isoladas; em alguns casos houve prejuízo.
β-caroteno em altas doses: aumentou a incidência de câncer de pulmão e a mortalidade em fumantes/heavily exposed (ATBC: risco relativo de câncer de pulmão ≈1,16; CARET: RR ≈1,28; também ↑ mortalidade total). Evitar altas doses em fumantes é consenso. O review também recomenda cautela com retinol (vitamina A) e luteína em altas doses para fumantes, pela possibilidade de efeitos adversos ou nulos.
Resumo prático: Comida colorida no prato ajuda; cápsula isolada em dose alta pode atrapalhar.
Quão longe isso vai? O tamanho do benefício
Mesmo com adesão a dieta rica em antioxidantes, o benefício é modesto e não compensa integralmente o estresse oxidativo do cigarro. Os autores são claros: cessar o tabagismo traz o maior ganho (inclusive com melhora de GSH em 12 meses em quem para). Reduzir o consumo também reduz parte do risco, mas não zera.
Mecanismos por trás dos efeitos da dieta
Aumento de antioxidantes circulantes (vitamina C, carotenoides etc.) após dietas ricas em frutas/vegetais foi observado, mas sem mudanças consistentes em biomarcadores de dano em estudos curtos/pequenos — possivelmente por doses, duração, seleção da amostra e endpoints.
Dietas a base de vegetais ativam programas citoprotetores (enzimas antioxidantes, chaperonas, proteínas mitocondriais) — efeito orquestrado, não replicável por 1 nutriente isolado.
Recomendações acionáveis (baseadas no review)
Prioridade absoluta: parar de fumar. É a maneira mais eficaz de reduzir estresse oxidativo e risco de doenças relacionadas ao tabaco.
Alimentação colorida, como um “arco-íris”, diariamente:
Alvo populacional citado: ~9 porções/dia (4 de frutas, 5 de vegetais em uma dieta de 2000 kcal), adaptando ao contexto local.
Foque em cítricos, folhas verdes, tomate, cenoura/batata-doce, frutas laranja/vermelhas para variar carotenoides e vitamina C, além de oleaginosas/óleos para tocoferóis.
Evitar altas doses de β-caroteno (e retinol) em fumantes. Ensaios ATBC e CARET mostraram aumento de risco de câncer de pulmão e de mortalidade; em fumantes, não suplementar altas doses desses compostos é prudente.
Suplementos só quando houver indicação clínica (deficiência documentada, má absorção, necessidades específicas), preferindo doses próximas à RDA e avaliação profissional; não espere “neutralizar” o cigarro com cápsulas.
Estilo de vida que reduz o estresse oxidativo: controlar peso, glicemia e colesterol e praticar exercício regular (um desafio pró-oxidante leve que induz adaptação benéfica). Não existe “antioxidante milagroso” que desfaça o dano do cigarro.
Limitações e lacunas que o artigo destaca
Heterogeneidade dos estudos (populações, doses, duração, biomarcadores) limita conclusões fortes sobre “o” padrão ideal para fumantes.
Ensaios de curto prazo podem subestimar efeitos em desfechos duros (câncer, DCV).
Precisamos de estudos mais longos e específicos para fumantes, medindo biomarcadores validados (p.ex., razão GSH/GSSG) e eventos clínicos.
E a N-acetil cisteína (NAC)?
A N-acetilcisteína (NAC) tem um papel central na bioquímica antioxidante, e sua relação com a glutationa é fundamental para entender seus efeitos terapêuticos em fumantes.
A glutationa (GSH) é um dos antioxidantes mais importantes do corpo, presente em praticamente todas as células. Ela protege contra o estresse oxidativo, neutralizando radicais livres e detoxificando substâncias tóxicas.
A síntese de glutationa depende de três aminoácidos: glutamato, cisteína e glicina. A cisteína é frequentemente o aminoácido limitante (menos presente na dieta), ou seja, o fator que mais limita a produção de glutationa no organismo. O suplemento NAC atua como fonte de cisteína, aumentando a disponibilidade desse aminoácido e, consequentemente, promovendo a síntese endógena de glutationa.
Um ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo, realizado no Brasil, avaliou a eficácia e segurança da NAC como tratamento adjunto para a cessação do tabagismo. O estudo envolveu 34 pacientes com transtorno de uso de tabaco, que foram randomizados para receber NAC ou placebo, além de tratamento de primeira linha, durante 12 semanas (Machado et al., 2020).
Os pacientes tratados com NAC apresentam uma redução significativa nos níveis de sTNF-R2 entre a linha de base e a semana 12. Ou seja, a inflamação diminui. Também reduz risco cardiovascular, como apontado pela melhoria nos índices de risco de Castelli I e II, colesterol total e LDL, sugerindo um efeito positivo sobre o perfil lipídico e o risco cardiovascular.
Embora o NAC não reduza sintomas de abstinência, seus efeitos anti-inflamatórios e sobre o perfil lipídico indicam um potencial terapêutico adicional.
Lembre: Parar de fumar continua sendo o maior “antioxidante” que você pode oferecer ao seu corpo.